A Formação do Professor de Ciências para o Ensino da Química do 9° ano do Ensino Fundamental – A Inserção de uma Metodologia Didática nos Cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas
A
Formação do Professor de Ciências para o Ensino da Química do 9° ano do Ensino
Fundamental – A Inserção de uma Metodologia Didática nos Cursos de Licenciatura
em Ciências Biológicas
NELSON LAGE DA COSTA
Mestre em
Ensino de Ciências, Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática
da Universidade Castelo Branco, UCB, Brasil
Resumo
Na
tentativa de ajudar a minimizar a atual problemática: “a quem compete ensinar a
ensinar”; este trabalho tem como objetivo divulgar uma metodologia didática
“diferente”, um “modus operandis”,
para ensinar futuros professores, atuais licenciandos, a ensinar os tópicos
abordados na disciplina de Ciências no 9° ano de escolaridade. A proposta,
diferentemente das propostas apresentadas nos atuais cursos de formações
continuadas, foi desenvolvida para ser aplicada ainda durante o processo
formativo, na disciplina de Práticas de Ensino, durante a realização da
Licenciatura. Este manual disponibiliza, em um só compêndio, as melhores
didáticas específicas para ensinar os alunos do 9° ano do ensino fundamental,
os assuntos ministrados na série, congregando uma sequência de aulas práticas
que poderão ser realizadas em sala de aula, aulas teóricas e sites de pesquisas
com o uso da INTERNET. É uma tentativa de levar para a licenciatura, técnicas
que infelizmente os professores só tomam conhecimento depois de formados.
Palavras-chave: Metodologia
Didática, Formação de Professores, Ensinar a Ensinar.
Introdução
Neste
trabalho é apresentada uma proposta que é considerada a priori, um tanto quanto renovadora – inovadora, em razão da
discussão que se faz acerca da relação entre o conteúdo e a prática na busca de
novas metodologias didáticas mais apropriadas aos cursos de Licenciatura em
Ciências Biológicas ao que se refere às técnicas de ensinar a ensinar.
O
objetivo principal é propor uma metodologia didática mais adequada à linguagem
dos atuais licenciandos em Ciências Biológicas. Uma metodologia didática que
seja capaz de ensinar aos futuros professores a ensinar os tópicos de química
abordados na disciplina de Ciências no 9° ano de escolaridade. Esta proposta é
diferente das atuais propostas oferecidas nos “cursos de formação continuada”,
tendo em vista se tratar de um método idealizado para ser inserido e aplicado
ainda nos cursos de formação inicial dos professores de Ciências. O que é
oferecido através desta metodologia é apenas uma pequena amostra de um trabalho
que é fruto da vivência de quase trinta anos de experiência no magistério,
tanto no Ensino Fundamental, no Ensino Médio, bem como no Ensino Superior em
Instituições da rede de ensino público e particular.
Além
do objetivo principal, já citado, há ainda um objetivo julgado secundário, mas
não menos importante, que é contribuir na discussão acerca do ensino de química
junto aos formadores (a quem compete
ensinar a ensinar) e das instituições de Ensino Superior para a revisão dos
conteúdos teóricos e práticos que vêm sendo transferidos aos licenciandos
durante a formação, na disciplina de Práticas de Ensino. Conteúdos que, além de
serem muito superficiais, carecem de qualidade no que se refere à utilização de
antigas e novas tecnologias.
Alerta-se,
entretanto, para o fato de que a proposta aqui apresentada é uma mescla das
tantas propostas apresentadas por diversos autores para o ensino da Química. Em
sua maioria, propostas de excelente qualidade e cheias de boas intenções, mas
que têm permanecido muito distantes do processo formativo, dentro dos cursos de
licenciaturas, na prática de ensino.
A Formação do Professor
para o Ensino de Ciências
Voltando
as atenções às carreiras ligadas ao eixo temático do ensino de ciências, foco
central desta pesquisa, muito provavelmente serão encontradas diversas falhas
em todos os processos de formação dos professores para atender a área das Ciências.
Apontar culpados por essas falhas não é elegante e omiti-las não é de forma
alguma, honesto. Portanto, serão considerados, de forma preliminar e
cuidadosamente, alguns aspectos acerca das licenciaturas ligadas ao ensino de
Ciências.
Desde
a infância, é importante aprender Ciências. Esta é, sem dúvida, uma afirmação
de caráter unânime no meio científico e no meio docente, além de ser uma fala
já demasiadamente desgastada. Se o ensino de Ciências for bem feito, ajudará a
criança a compreender o mundo em que ela vive. A cultura tem como forma
primordial projetar o futuro. A Ciência, quando tratada como cultura, imagina e
projeta o futuro. E, além disso, é capaz de criar muitas utopias. Desta forma,
entende-se que a Ciência é fundamental desde a infância. É importante ainda
integrar a história da Ciência ao ensino de Ciências, e a história das ciências
é considerada como um obstáculo muito grande para muitos dos professores recém
formados.
A
história da ciência, quando inserida nos cursos de licenciatura, não deve ser
limitada a um mero relato cronológico dos fatos ocorridos ao longo da história
da humanidade. Segundo Pavão (2008), a inserção de tópicos da história da
ciência deve levar os licenciandos não somente a um profundo debate a cerca de
fatos relevantes. Mas levá-los “ao entendimento da natureza essencialmente
humana e do empreendimento científico”, comportamento muitas vezes deixado de
lado pelos formadores.
É
preciso lembrar também que a Ciência não é feita somente de observação dos
fenômenos naturais ou dos registros históricos. Se assim o fosse, bastaria
somente ensinar através de aulas práticas ou através de livros de história da
ciência. Ela é feita de muita criação e é também muito poética. Mas a Ciência é
muito diferente da arte, pois a Ciência precisa de comprovação e a arte, não.
Sendo assim, pode-se afirmar que, mesmo a contragosto de muitos dos leitores, a
química é linda e a física é fascinante, em todos os aspectos. Não se pode ter,
de forma alguma, uma metodologia rígida no ensino de Ciências, pois a
curiosidade, a imaginação e a criatividade devem ser tratadas como fundamentais
para as crianças, para os adolescentes e para os professores, assim como o são
fundamentais para os cientistas.
Nardi,
Bastos e Diniz (2004), afirmam que o educador deve possuir habilidades na
utilização e aplicação de procedimentos de ensino. É o que os autores chamam de
"arte de ensinar". É preciso desejar ensinar, querer ensinar, ter
paixão por essa atividade. E estes sentimentos são necessários já no início da
formação do professor e não somente ao final da Licenciatura em uma meia dúzia
de atividades de prática docente ou através de algumas poucas horas em um
estágio supervisionado.
Um
dos maiores críticos a respeito dessa rigidez metodológica foi o físico e
filósofo Paul Feyerabend (1924 - 1994), que defendia a importância da
imaginação criadora nos rumos das Ciências. O conhecimento científico é
fundamental, para todo mundo, seja para um cientista ou mesmo para uma criança.
Se o ensino de Ciências for bem feito, sem dúvida trará consequências sociais
positivas e novos rumos para a nossa sociedade. É notório que o mundo e os
seres humanos que nele habitam, precisam do desenvolvimento da Ciência. E o
ensino dessa Ciência tem que se relacionar com a vida, ter sentido. Quem ensina
Ciências, normalmente, é um apaixonado, uma criança, um cientista. O professor
de Ciências deve ser capaz de ligar a Ciência com o mundo. Uma conectividade
integral e permanente, sem interrupções, sem “bugs”. Cabe ao professor de Ciências
“abrir a cabeça” das crianças e dos jovens para o mundo, dar ao indivíduo uma
introdução à formação científica para que o mesmo possa entender como os
fenômenos estão acontecendo em sua volta e saiba, desta forma, interpretar o
mundo.
O
espírito científico existe e deve ser desenvolvido na criança, no adolescente,
no licenciando, no professor e no pesquisador, mas esse espírito deve ser
desenvolvido em modalidades e graus diferentes. A Ciência, seja ela natural ou
exata, está hoje, intimamente ligada a tudo o que se passa no planeta, seja
pelas consequências da atividade humana, seja pela própria compreensão de como
funciona o planeta como um todo ou o grande ecossistema planetário.
Esse
tipo de conhecimento e de espírito científico é fundamental para a sobrevivência
da civilização e da cultura, para que a humanidade não seja levada a um grande
desastre, e o pior, um desastre irreversível. Para isso, é importante a
compreensão dos fenômenos que regem o planeta e a influência do homem sobre
eles. Sendo assim, é da responsabilidade dos futuros professores, os
licenciandos de hoje, explicar didaticamente esses fenômenos, aproveitando cada
oportunidade oferecida pelo dia-a-dia da vida das crianças e dos adolescentes.
Para
complementar esta análise, ressalta-se de Astolfi (2008) a afirmação de que a
didática, com o espírito eminentemente pedagógico, tem a capacidade de propor
diferentes conceitos que podem concorrer na instrumentação dos professores de
Ciências em termos de previsão, de observação, análise, gestão, regulação e
avaliação de situações de aprendizagem e de ensino. Tudo isso em favor dos
aprendizes de Ciências, os alunos, que serão os futuros professores e os
futuros cientistas. Mas, infelizmente, de acordo com o que expõe
Cunha (2006), o Ensino Médio (EM) brasileiro cresceu, mas não houve uma
expansão na formação de professores para as áreas de Ciências.
No
início dos anos 90 do século passado, o número de matrículas no Ensino Médio
passou de 3,77 milhões de estudantes e no ano de 2000 chegou a 8,19 milhões. Os
cursos de formação de professores realizados pelas universidades brasileiras
públicas e particulares, para atuar no Ensino Básico não conseguiram atender a
essa demanda. De acordo com dados do Ministério da Educação (MEC, 2005),
necessita-se ainda de 235 mil docentes em todas as áreas do Ensino Fundamental
e do Ensino Médio. No caso da Química, ponto central desta pesquisa, o déficit
de licenciados é da ordem de 23,5 mil.
No
período de 1990 a 2005, graduaram-se 13.504 professores de Química em todo o
Brasil (MEC, 2007). Se for incluída a necessidade de docentes com formação em
Química para atender ao 9° ano de escolaridade do Ensino Fundamental, haverá um
acréscimo na demanda de mais 32 mil profissionais (INEP, 2003). Ressalta-se
ainda, que esses números aumentam ainda mais se for levado em conta que quase
15% dos professores de Química em serviço no Ensino Fundamental e Médio no
Brasil carecem de formação específica na área (MEC, 2005). São profissionais
com titulação nas áreas de engenharia e outras carreiras técnicas que atuam
como professores tanto no Ensino Fundamental como no Ensino Médio.
Tendo
em vista a importância dos dados apresentados acima, para melhorar o ensino de
Ciências, e atender à demanda que aumenta a cada ano, é necessário que o número
de professores formados para atuarem nessa área cresça. Todavia, segundo Borges
(2006, p. 136), aumentar a quantidade de professores não seria uma atitude
suficiente, “é preciso melhorar a qualidade dos professores recém formados”.
Diante destes dados, vários são os questionamentos que devem ser formulados:
Como disponibilizar no mercado um número suficiente de professores que possam
atender a demanda? E mais que isso, que sejam bons profissionais. Qual seria,
neste caso, a atitude mais coerente a ser tomada pelas autoridades da educação?
Suprir
as vagas com uma formação rápida e imediata, formando a qualquer custo pessoas
que comprovadamente não teriam a menor condição de assumir a vaga de professor
tenderá a piorar ainda mais a situação em que se encontra o ensino de Ciências.
Por outro lado, ter calma e formar, em médio prazo, profissionais eficientes e
dispostos a reverter a situação atual do Brasil é certamente mais prudente.
Para
estes questionamentos, Cunha (2006, p. 151) apresenta algumas respostas.
Segundo o autor, o MEC tem proposto ações que visam corrigir essa carência.
Sendo que várias dessas ações passam pela disponibilização de recursos através
de editais e outras formas de fomento que buscam fundamentalmente, a melhoria
das licenciaturas e a ampliação do número de vagas. Trata-se, portanto de uma
política de governo que priorize recursos em prol da formação dos futuros
professores.
A
falta de professores com nível superior é uma das principais carências da
educação básica. Em 2005, o MEC abriu 17.585 vagas em Cursos de Graduação à
Distância em parceria com 37 instituições públicas de ensino superior, em todas
as regiões do país. O objetivo era formar novos docentes nas áreas de
Pedagogia, Química, Física, Matemática e Biologia e, assim, suprir a demanda
por professores nessas áreas especialmente, na rede pública de ensino.
A
preocupação do MEC a partir de 2005 foi a formação de novos docentes para
atender principalmente a área de ciências (Química - Física - Biologia).
Preocupação que se repete no ano de 2009 com a implantação do Programa
Emergencial de Segunda Licenciatura para Professores em exercício na Educação
Básica Pública, coordenado pelo MEC em regime de colaboração com os sistemas de
ensino e realizado por instituições públicas de Educação Superior. Ressalta-se
ainda que além de uma segunda licenciatura, como propõe o governo, a formação
continuada e a atuação multidisciplinar são exigências cada vez mais presentes
na vida dos professores, no mundo atual.
Anteriores
ao Programa Emergencial de Segunda Licenciatura para Professores, o MEC propôs
como algumas das soluções para a formação de professores com vistas ao Ensino
Básico, a modalidade da formação de professores à distância. Os exemplos mais
recentes de atuação do governo nesse sentido foram o Edital
CT-INFRA/FINEP-01/2003; a Chamada Pública MEC/SEED-001/2004; e o Programa
Pró-Licenciatura Resolução CD/FNDE n° 34, de 9 de agosto de 2005. Os resultados
desses trabalhos ainda são pouco significativos, diante das necessidades atuais
da educação com vistas ao suprimento das carências apontadas.
No
entanto, em todos os programas implantados pelo governo, falta ainda, na
formação docente, profissionais que realmente ensinem aos futuros professores a
“arte de ensinar”. É muito bonito poder usar o termo a “arte de ensinar”, no
entanto, é desestimulante e algumas vezes pode ser considerado deprimente saber
que muitos dos professores de Química que trabalham no Ensino Básico
desenvolvem em sua prática docente a memorização de fatos, tabelas e fórmulas
sem que haja uma citação ou uma ligação, por menor que seja, com a história da
química. Da mesma forma, como as suas aplicações na resolução de exercícios,
sem que haja, por parte do aluno o desenvolvimento do pensar científico. Esses
professores o fazem não por mero acaso, mas por reproduzir a abordagem e os
métodos de ensino de Química que vivenciaram em sua formação.
É
fácil perceber que em uma grande quantidade das escolas brasileiras, os
professores da atualidade, reproduzem uma forma de lecionar idêntica a que lhes
ensinaram seus ex-professores no Ensino Médio ou na Licenciatura. Outra
observação que deve ser feita é que muitos dos professores de Ciências não
valorizam o desenvolvimento do pensar científico. Esses professores não se preocupam
em ensinar aos alunos, a forma de planejar e conduzir investigações, como
desenvolver habilidades de argumentação e de comunicação de ideias científicas.
Na sua formação, esses professores não tiveram acesso a esse tipo de ensino e
acabam por ensinar os conteúdos de Ciências, em suas aulas, reproduzindo o
ensino que tiveram em sua formação inicial.
Certamente,
na intenção de se tentar amenizar o problema, nos últimos anos, houve um
crescimento significativo do número de encontros, simpósios, congressos e
periódicos apresentando pesquisas que possam melhorar a qualidade da formação
de professores de Ciências. Porém, infelizmente, muitos docentes universitários
não aplicam os resultados das pesquisas científicas em prol do aprimoramento
das suas práticas educacionais. Os formadores não estão levando para a formação
dos professores os resultados das excelentes pesquisas que estão sendo
desenvolvidas dentro e fora do país.
Em
estudo elaborado por Carvalho e Gil-Pérez (2003) os autores apontam um conjunto
de conhecimentos que proporcionam uma visão da atividade docente. São
habilidades possíveis de serem adotadas no que se refere à formação de
professores de Ciências, bem como a sua aplicação no Ensino Básico. Segundo os
autores, o essencial é que se possa ter um trabalho coletivo em todo o processo
do ensino e da aprendizagem. Processo que deve ser desenvolvido desde a
preparação das aulas culminando com um processo eficiente de avaliação.
Durante
a leitura dos trabalhos de Carvalho e Gil-Pérez notou-se que os autores
concebem a formação do professor como uma profunda mudança didática, que deve
questionar as concepções docentes de senso comum. Os autores constatam a
necessidade de um abrangente conhecimento da matéria e da apropriação de uma
concepção do ensino e da aprendizagem das Ciências como construção de
conhecimentos. Tal apropriação, para que seja possível um desdobramento do
modelo vigente de transmissão e de recepção, deverá estar teoricamente
fundamentada e deve ser fruto de uma vivência reiterada das novas propostas
teóricas, extrapolando desta forma, o período necessariamente breve da formação
inicial.
Da
mesma forma, Zabala (1998) propõe que a complexidade dos processos educacionais
faça com que dificilmente se possa prever o que acontecerá na sala de aula.
Sendo assim, o autor aconselha que os professores detenham um maior número de
estratégias para poder atender às diferentes demandas que poderão aparecer no
transcurso do processo de ensino e de aprendizagem. Sendo assim, a preparação
do docente para o exercício da sua profissão deverá estar associada, dessa
maneira, às tarefas de pesquisa e inovação permanentes desde o início da sua
formação e não somente restritos ao último ano da licenciatura, como são
propostos por grande parte das instituições formativas de professores em
algumas horas de estágio supervisionado. O que seria de certa forma, um
caminho, mas, com certeza, não o suficiente.
Em
seu trabalho, Delizoicov (2007) enfatiza, de forma bem categórica, que em
relação à formação inicial de professores seria interessante o estímulo a
realização de uma pesquisa e/ou de levantamentos sobre o uso dos resultados de
pesquisas realizadas e aplicadas pelos docentes. Delizoicov pressupõe que o
professor formador desempenhe um papel exemplar para a atuação docente, tanto
ao adotar práticas consistentes com os resultados de pesquisa como ao manter
práticas tradicionais de ensino.
Enfim,
para Delizoicov, uma pesquisa que tenha como foco o impacto da produção da área
na atuação do docente formador, poderia fornecer elementos fundamentais e
elucidativos da importância da pesquisa para o ensino de Ciências. Mas é
importante ressaltar que, se for olhado para um passado bem próximo, a maioria
dos professores com títulos de especialistas, mestres e doutores, que lecionavam
em cursos universitários não passavam por qualquer formação pedagógica,
alegando não haver necessidade devido ao fato do professor de curso superior
lidar com “adultos”.
Com
o advento dos atuais mestrados profissionais do ensino de ciências em funcionamento,
no país e já atingindo também os cursos de doutorado, a formação pedagógica dos
formadores de professores tende a melhorar. Desta forma, a preocupação, na
academia, passa a ser maior com a motivação para aprendizagem e,
consequentemente, espera-se uma diminuição dos problemas com as disciplinas
pedagógicas, como em outros níveis de ensino (GIL, 2005). Ou seja, para os
antigos formadores de professores, qualquer disciplina de área pedagógica só
era aplicada basicamente em crianças e adolescentes, não sendo necessária ser
trabalhada com turmas de adultos. Muitas teorias como essas foram aceitas
durante muito tempo, e se alteraram a medida que houve um crescente aumento do
número de pessoas que chegavam à universidade.
Os
cursos universitários têm se tornado cada vez mais específicos e o controle
sobre a qualidade cai, devido à quantidade de cursos oferecidos. É notória a
falta de preocupação com a qualidade. Tudo isso relacionada a uma visão mais
crítica do ensino, conduzem a identificação da necessidade de o professor
universitário dotar-se de conhecimentos e habilidades de natureza pedagógica.
Segundo Gil (2005) nos últimos cinco anos tem crescido consideravelmente a
crítica de alunos de cursos superiores ao fazerem a apreciação de seus professores.
Estes alunos têm ressaltado negativamente a competência técnica dos seus
professores além de criticarem a competência didática. Esse tipo de situação
ocorre muitas vezes porque o professor universitário domina o conteúdo das
disciplinas que ministra, mas infelizmente, não sabe conduzir o desenvolvimento
do conhecimento em questão para o aluno de forma didática por, às vezes,
possuir conhecimento pedagógico insuficiente ou até mesmo não o possuir.
Notadamente,
boa parte da responsabilidade acerca da desvalorização da preparação pedagógica
dos professores deve-se à própria universidade, que nem sempre valoriza o
professor no desempenho de suas funções docentes, Gil (2005).
É
sabido que um grande número de universidades privilegia as atividades de
pesquisas tecnológicas em detrimento do exercício de pesquisas em práticas
docentes. Este privilégio justifica-se em função dos recursos públicos e
privados que este tipo de atividade proporciona, e pelo status acadêmico que
confere às instituições onde estas se realizam. Em outras palavras, as pesquisa
em áreas tecnológicas geram mais recursos financeiros do que a pesquisa no
ensino.
Ainda
nesse contexto, infelizmente o Exame Nacional de Cursos é o único instrumento
do governo destinado a examinar a qualidade do ensino ministrado nas
Universidades, resultando daí, provavelmente, um menor envolvimento dos
docentes com as atividades de ensino, que encontram na pesquisa uma maior
compensação financeira sem que haja uma contribuição substancial para a melhoria
na qualidade de ensino (Lisita, 2001).
Ainda
no enredo proposto neste tópico, sobre a formação do professor para o ensino de
ciências, torna-se providencial passar para um novo questionamento: Quais os
objetivos do ensino de Ciências?
Para
analisar esse questionamento, é possível um posicionamento sobre os pilares dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Neles são identificadas as capacidades
que os alunos devem desenvolver até a conclusão do Ensino Fundamental. São
elas:
·
Compreender a natureza como um todo dinâmico
e o ser humano, em sociedade, como agente de transformação do mundo em que vive
em relação essencial com os demais seres vivos e outros componentes do
ambiente;
·
Compreender a Ciência como um processo de
produção de conhecimento e uma atividade humana, histórica, associada a
aspectos de ordem social, econômica, política e cultural;
·
Identificar relações entre conhecimento
científico, produção de tecnologia e condições de vida no mundo de hoje e em
sua evolução histórica, e compreender a tecnologia como meio para suprir as
necessidades humanas, sabendo elaborar juízo sobre riscos e benefícios das
práticas científico-tecnológicas;
·
Compreender a saúde pessoal, social e
ambiental como bens individuais e coletivos que devem ser promovidos pela ação
de diferentes agentes.
É
sabido, por todos os professores de Ciências, que para os alunos alcançarem
esses objetivos, três fatores considerados fundamentais devem ser levados em
conta durante o processo formativo:
I)
A qualidade do trabalho desenvolvido pelo
professor;
II)
A qualidade dos recursos utilizados nas
aulas e;
III)
A qualidade dos alunos.
Para
Becker (2008), como o conhecimento, em qualquer nível, depende da
qualidade da sua construção, ocorrida no período sensório-motor e prolongada no
simbólico, a disponibilidade diferenciada de espaço tende a determinar
diferenças na qualidade da construção dessas categorias, facilitando ou
comprometendo a construção futura do conhecimento. Facilitando ou comprometendo
a capacidade de aprendizagem dos alunos na sala de aula.
Se
for considerada a falta de qualidade do trabalho dos professores, haverá um
comprometimento da qualidade das aulas e certamente de nada adiantará alunos
com qualidade. Em contrapartida, de nada adiantaria um professor qualificado
diante de um aluno que se negasse ao aprendizado. É o professor que,
qualificando suas aulas, poderá atrair os alunos para um melhor ensino e com
muito mais qualidade no aprendizado. Mas infelizmente, o trabalho do
professor, segundo Lelis (1996, p.128), “ainda é isolado e fragmentado”, embora
já se tenha observado recentemente a tentativa de alguns grupos de refletir
sobre a qualidade de suas ações, o que tem levado inclusive ao
redimensionamento dos conteúdos e das próprias estratégias de ensino. As
referencias são os grupos de Educação em Química e de História da Ciência.
O
ser humano, desde o seu nascimento, tem um longo caminho a ser percorrido até
que esteja completamente inserido na comunidade em que vive. Num contexto cada
vez mais complexo e globalizado, as escolas e os professores têm a importante
tarefa de facilitar essa introdução na sociedade, oferecendo aos alunos todas
as situações possíveis que possam promover a construção de uma boa cidadania
para então, poder construir um aluno qualificado. Cabe ao professor, o
importante papel de estimular, ajudar, promover, facilitar, orientar,
persistir, motivar, planejar, sempre com o objetivo de conseguir o crescimento
de seus alunos. Todavia, embora a educação se dê no aluno, sempre com sua
participação e seu consentimento, cabe ao professor a tarefa de apoiá-lo,
ajudando-o a vencer os obstáculos e, principalmente, a falta de motivação, para
impulsioná-lo ao efetivo aprendizado.
Desta
forma, o professor, como profissional de educação é o elemento qualificado para
ajudar os alunos no processo de humanização e formação. Porém, acrescente-se
ainda que, não é o professor o único a colaborar com as mudanças no enfoque
educacional. Além do professor, acrescente-se ainda a escola, a sociedade e os
governos, seja em que esfera for: federal, estadual ou municipal como colabores
às mudanças no enfoque educacional da atualidade. Todos, que direta ou
indiretamente, tenham envolvimento com a educação e com a formação de
professores devem repensar o papel da educação e da formação, fornecendo os subsídios
necessários para que essas mudanças realmente aconteçam. E cabe aqui ressaltar
mais uma vez a importância não só dos cursos de formação continuada do
professor e as equipagens (laboratórios, projetores, etc.) das escolas, mas que
os subsídios necessários às mudanças atinjam também a formação inicial dos
professores.
Mas
afinal, como então, diante de tantos entraves pode o professor, ensinar melhor
os assuntos ligados às Ciências? Estes temas não são de simples abordagem e não
oferecem, por maior e melhor que seja a pesquisa, respostas rápidas e soluções
de simples execução. Neste trabalho, ao traçar estratégias e fazer escolhas,
inevitavelmente deixam-se de lado algumas ideias para apostar em outras, mas
sempre procurando seguir um propósito claro, objetivo e coerente, ao mesmo
tempo em que se propõe dar uma funcionalidade à realidade enfrentada em salas
de aulas especificamente durante as aulas de química ministradas ao 9° ano de
escolaridade.
Não
pode ser esquecido, o fato de que cada professor, de acordo com sua
experiência, vai conhecendo ou desenvolvendo formas próprias de conduzir a aula
e adequá-la à turma com a finalidade de atingir seus objetivos. Neste trabalho,
houve a opção pelo programa de química do 9° ano de escolaridade. Mas, como
ensinar ou planejar sobre tópicos que não se dispôs de uma formação adequada?
Como ensinar um conteúdo que não foi aprendido? Ou melhor, que técnica usar
para se ensinar adequadamente um determinado conteúdo? É sabido, como já citado
anteriormente, que o professor durante a sua formação deve ser preparado para
formar cidadãos críticos. Cidadãos conscientes e capazes de compreender os
temas científicos, compreender o funcionamento da tecnologia colocada a sua
disposição e serem capazes de aplicá-las para o entendimento do mundo e da
sociedade em que vivemos, sempre preocupados na preservação do meio ambiente.
Trata-se,
portanto da capacidade de desenvolver e aprimorar técnicas de ensinar Ciências
(e aqui não somente a química mas também a física e a biologia). E nos dias
atuais é de fundamental importância que todos os professores, e não somente os
de Ciências, tenham a capacidade de lidar com as questões da Ciência, do meio
ambiente e da tecnologia, pois elas interferem diretamente na vida e no mundo
como um todo.
São
muitas as razões que dão relevância ao ensino bem feito de Ciências na vida das
pessoas, seu entendimento e sua utilização no dia-a-dia levam a pensar na
conservação da energia, na reciclagem de materiais, na conservação do planeta.
E um tema que vem sendo muito discutido diz respeito à “alfabetização
científica”. Todos os profissionais da área de educação acreditam que seja um
bom caminho a ser seguido para o ensino de Ciências. Mas será que os
professores, formados nos últimos dez anos ou mesmo anteriormente, foram
alfabetizados cientificamente?
Entende-se
como alfabetização científica aquela que tem como significado maior, a busca de
um indivíduo com capacidade de compreender e de interagir com a informação,
aplicando-a nas mais diversas situações. Neste sentido, a alfabetização
científica deve priorizar sempre a divulgação do conhecimento científico com
vistas a sua aplicação no dia-a-dia. Entende-se Ciência como instrumento para a
cidadania e constituidora da formação de uma sociedade mais consciente cientificamente.
Talvez seja este um bom caminho para que o ensino de Ciências não seja resumido
à simples transmissão de informações. Como os próprios adolescentes sempre se
referem, e com razão, as aulas de ciências são sempre cheias de nomes estranhos
e coisas que nunca viram e que certamente muitos ainda continuarão sem as ver.
O
que se tem visto nas salas de aula são formas antigas de ensinar. Mesmo com
professores recém formados, essa prática é constante. São conteúdos em demasia,
estímulo a decoreba e confecção de questionários. Não se deve, de forma alguma,
resumir as aulas ao simples “passar conteúdo”; o que certamente se deve pensar
para as aulas é que estas deverão ser capazes de informar; levar os alunos a
pensar, questionar, interagir, opinar e transformar a própria realidade. Mas,
para, além disso, é preciso abandonar algumas crenças e várias formas arcaicas
de ensinar. Para Lelis (1996, p. 63), há uma necessidade imediata de
mudança do currículo, sobre a natureza dos conhecimentos transmitidos, sobre as
formas de ensinar e principalmente sobre a necessidade de articular a prática
em sala de aula às necessidades das escolas, seja em que nível for.
No
entanto, não é necessário um grande esforço para motivar os
adolescentes. Basta aproveitar sua própria curiosidade, suas muitas perguntas e
a vontade de saber que estes jovens possuem. O professor deve aproveitar para
estimular, nos alunos, o confronto entre o conhecimento científico e os saberes
populares que certamente todos possuem. Os professores devem fazer com que seus
alunos se tornem críticos. Devem aproveitar ainda, as informações oferecidas
pelos meios eletrônicos de comunicação que tanto prendem a atenção dos jovens.
Mas,
como fazer com que o aluno se torne crítico? É necessária uma desconstrução das
suas certezas e uma reconstrução dos novos modelos. Mas o professor deve estar
atento para o fato de que o aluno deve ser constantemente estimulado, com
informações coerentes e a sua maneira, no seu tempo. Devem ser propostas
questões motivadoras e não enfadonhas.
A
tarefa do professor não é simplesmente a de obrigar os alunos a ler os textos
propostos nos livros didáticos e a responder os exercícios. Cabe aos
professores, durante as aulas, estimularem os alunos, fazer os alunos pensar,
propondo problemas desafiadores, semeando algumas incertezas, mostrando novos
caminhos. Um requisito indispensável ao questionamento reconstrutivo, segundo
Demo, (1997, p. 22) é que ele tenha qualidade formal e política, ou seja,
"há de ser formalmente lógico, bem sistematizado, argumentado da melhor
maneira possível, elaborado rigorosamente". Isso justifica a importância
do exercício da leitura e da escrita em sala de aula. Todavia, não se deve
esquecer a importância das aulas práticas.
Notadamente,
a incerteza também vale como contribuinte para os conhecimentos científicos. É
necessário que o professor de Ciências transmita aos alunos que é preciso
duvidar sempre e nunca acreditar em tudo aquilo que está escrito. O aluno deve
ver acontecer. A dúvida desperta a vontade de saber mais e para saber mais, o
experimento é sempre bem vindo.
O
professor deve estar ciente de que saber expressar-se e compreender uma
linguagem é atribuir significado à informação, é dar sua própria interpretação
de algo, é, por fim, aprender. E, sendo assim, aprender Ciências envolve o
conhecimento de um vocabulário específico, de uma estrutura de pensamento e um
modo diferente de ver o mundo. É uma assertiva quando dizemos que ler e fazer
Ciências tem muito em comum. Em ambas as atividades é preciso dispor de
conhecimentos prévios, de fazer hipóteses, de determinar a relevância da
informação, de comparar, de fazer pausas para avaliar a compreensão e de
detectar eventuais falhas.
Como
breve conclusão, existe, segundo Pozo (2009), o perigo de, em alguns momentos,
alguns alunos não terem discernimento suficiente para diferenciar entre os
processos para fazer ciências e os processos para aprendê-la, que é a
verdadeira tarefa que os alunos devem enfrentar. E cabe ao professor, ser o
guia desses alunos para que possam suplantar esse obstáculo. Mas para que os
futuros professores possam se tornar verdadeiramente guias dos alunos, estes
devem ser bem preparados e esta preparação só é possível através de uma boa
prática de ensino.
A Prática de Ensino e as
Licenciaturas
Resta
ainda tratar da relação que se estabelece nos cursos de formação de professores
entre a prática de ensino e a didática, seus entendimentos conceituais e
ideológicos. A expectativa neste tópico é pura e simplesmente colaborar com a
melhoria do formato hoje adotado nas licenciaturas em relação à disciplina de
Práticas de Ensino. A inclusão de uma metodologia didática mais adequada ao
ensino da química na disciplina de Prática de Ensino poderá contribuir
sobremaneira com a qualidade na formação dos futuros professores.
Inicialmente
torna-se necessária uma breve discussão a respeito de como se colocam nos dias
atuais a disciplina de Prática de Ensino nas Licenciaturas em Ciências
Biológicas, tendo como base, as recentes pesquisas em Ensino de Ciências. Em
seguida serão traçados alguns conceitos acerca de didática e suas implicações
na prática docente.
Deve
ser registrado a priori que a Prática de Ensino sempre teve, ao longo de sua
existência, forte relação com as disciplinas didáticas e com os Estágios
Curriculares ou, como em algumas Universidades são chamados, Estágio
Supervisionado, e que esse elo sempre foi muito forte. Pois, como encontrado em
Pimenta (2008, p. 106), “o termo pedagogia, pela influência do movimento
escolanovista, foi sendo associado cada vez mais à docência”. A formação
pedagógica vai tendo o seu significado, cada vez mais, na preparação
metodológica do professor, na prática de ensino, no desenvolvimento e nas
habilidades de ensinar e, cada vez menos, na teoria da educação, no campo da
investigação sistêmica.
Não
é objetivo desta pesquisa aprofundar estudos sobre o que vem sendo desenvolvido
em relação aos currículos. No entanto, não se pode deixar de citar Maldaner
(2003, p. 51), que diz que “os currículos de formação profissional, com base
na racionalidade técnica derivam do Positivismo”. Estes currículos tendem a
separar o mundo acadêmico do mundo da prática e, assim, manter o monopólio da
pesquisa.
Segundo
Schön (1992), os currículos procuram proporcionar um conhecimento básico sólido
no início do curso, com subsequentes disciplinas de ciências aplicadas desse
conhecimento para, finalmente, chegarem à prática profissional, com os
diferentes tipos de estágios. Todavia, dentro do campo da pesquisa
em Educação, muitas discussões já foram travadas sobre a especificidade e a
ineficiência das disciplinas de práticas de ensino e os estágios
supervisionados.
Os
próprios professores das licenciaturas, em sua maioria, como citado em Nardi,
Bastos e Diniz (2004, p. 101), não agem como formadores de professores e sim
como preparadores de "técnicos em ensinar". O que parece deixar
transparecer uma visão de educação completamente equivocada, segundo a qual
cabe ao professor somente a responsabilidade de transmitir os conhecimentos de
sua disciplina, e ao aluno, cabe incorporar esse conhecimento pronto e acabado.
Entretanto, há ainda outro problema relacionado a este. Nos cursos de
licenciatura o estudo sobre teorias de educação, ensino e aprendizagem é muitas
vezes feito de forma muito acanhada e isso acaba por gerar a ideia de que as
disciplinas pedagógicas são inúteis e as questões da educação, por conseguinte,
passam a ser desinteressantes. Diante destas considerações iniciais,
faz-se necessário discutir criticamente, e alicerçado na bibliografia
consultada, as perspectivas e as tendências atuais a respeito da disciplina
Práticas de Ensino, no que se refere ao ensino de ciências, especificamente
para o 9° ano de escolaridade do Ensino Fundamental.
Além
dessa discussão, faz-se necessário criar uma ligação direta desta disciplina
com as Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores. Como já
mencionado, a história da Prática de Ensino no Brasil remonta da década de
1930. E desses quase oitenta anos, já há quase trinta anos muitos pesquisadores
da área da educação vêm discutindo e refletindo tempestivamente, acerca da
ligação da Didática com a Prática de Ensino e sua consolidação como disciplina
de caráter fundamental nas Licenciaturas, apesar de sempre ter havido entre
elas uma relação forte e marcada por um caráter de complementaridade.
Segundo
Maldaner (2003), ainda que, com uma prática explícita, por parte dos
responsáveis pela implantação das reformas educacionais a partir da atual
política educacional, de não ouvir os professores, de implantar controles sobre
os sistemas educacionais, de desenhar parâmetros curriculares universais para
todas as escolas e de desenvolver estratégias centralizadas de formação de
professores, a história mostra que não se conseguirá a homogeneidade, pelo
contrário, a resistência sempre existiu por parte de educadores, instituições
de ensino e, mesmo, administradores educacionais.
Maldaner
(2003, p. 21) registra ainda que os educadores e professores brasileiros estão
engajados na luta por uma educação de melhor qualidade desde há muito tempo e
de forma mais organizada e consensual a partir da década de 80. Diferente do
encontrado em toda a década de 70, onde o pensamento educacional tinha
movimento em torno da elaboração de uma "ciência da educação", já não
mais nos moldes do pragmatismo, mas do neopositivismo, nas formulações do
empirismo lógico e filosofia analítica (Pimenta, 2008).
Antes
de prosseguir, deve ser proposta uma dualidade de ideias. A primeira é que os
atuais agentes pedagógicos formadores se situam colocando a Prática de Ensino
sob a forma de Estágio Supervisionado, sempre como tarefa exclusiva da
Didática, segundo a legislação atual. E a segunda é como esta disciplina vem,
realmente sendo desenvolvida. (a velha história – o que está escrito nos
documentos é muito diferente do que se faz efetivamente na prática).
É
fato que, nos cursos de Licenciatura, o estágio supervisionado está vinculado
ao componente curricular Prática de Ensino, cujo objetivo é o preparo do
licenciando para o exercício do magistério em determinada área de ensino ou
disciplina, tanto no Ensino Fundamental como no Ensino Médio.
Com
a promulgação da Lei N° 5.692 de 11 de agosto de 1971, ficou estabelecida a
qualificação obrigatória, reservando-se à Didática a aproximação da disciplina
de Prática de Ensino com a realidade de sala de aula. Apenas para registrar o
conteúdo disposto na Lei 5.692/71; em seu artigo 30, são encontradas as
exigências mínimas, para a formação e o exercício do magistério. Este artigo
evidencia a existência de dois esquemas: o primeiro, correspondente à formação
dada por cursos regulares e, o segundo, correspondendo à formação regular
acrescida de estudos adicionais, pressupondo a existência de cinco níveis de
formação de professores que eram os seguintes:
·
Formação de nível de 2º grau destinada a
formar o professor polivalente das quatro primeiras séries do 1º grau;
·
Formação de nível de 2º grau com 1 ano de
estudos adicionais, para formar o professor apto a lecionar até a 6ª série do
1º grau;
·
Formação superior em licenciatura curta
destinada a preparar o professor para uma área de estudos e a torná-lo apto a
lecionar em todo o 1º grau;
·
Formação em licenciatura curta mais
estudos adicionais, preparando o professor de uma área de estudos com alguma
especialização em uma disciplina dessa área, apto a lecionar até a 2ª série do
2º grau;
·
Formação em nível superior em licenciatura
plena destinada a preparar o professor de disciplina, apto a lecionar até a
última série do 2º grau.
Naquela
época, acreditava-se que a atividade didática, desenvolvida através da
disciplina de Prática de Ensino com a realidade de sala de aula, fosse
concebida como um espaço privilegiado na luta para a melhoria na formação de
professores e da qualidade do ensino. Mas, infelizmente, não foi essa a
realidade alcançada.
Diante
da realidade que configura a educação brasileira, parece que a caminhada até os
dias atuais não surtiu o efeito esperado, pois são facilmente detectáveis na
representação dos professores dois grupos com pensamentos distintos. De um
lado, um grupo de professores que atribui a situação deficitária da escola
brasileira à má qualidade do corpo docente, de quem cobra vocação, (e só
secundariamente preparo pedagógico) dom e aquele furor pedagógico, que realiza
verdadeiros milagres, seja qual for a situação; e de outro lado, o grupo de
professores que se apegam a uma política educacional que insiste em destinar às
salas de aulas professores sem a necessária motivação e vocação que a atual situação
educacional exige, (Patto, 1999).
De
1971 até os dias atuais, muitas tendências pedagógicas predominaram, no
entanto, a Didática continua até hoje centrada na formação prática do educador.
Por conta disso, as demais disciplinas ministradas nas Licenciaturas não têm
contribuído para a articulação com o contexto da prática pedagógica
desenvolvida nas escolas. Sob a análise de Zanon (2007), no que se
refere à Licenciatura, a pesquisa como componente curricular é abordada,
geralmente no quinto período do curso, quando este é semestral, e no último ano
do curso, quando este é anual, na disciplina Estágio de Licenciatura, quando os
licenciandos são introduzidos nas práticas de pesquisa educacional.
A
Prática de Ensino não tem acompanhado o movimento das tendências do ensino que
vêm se dando ao longo dos últimos anos. Os futuros professores
(alunos-estagiários) não têm conseguido perceber, nas raras vezes que entram em
sala de aula durante o estágio supervisionado, as dimensões sociais, políticas
e pedagógicas do processo educativo.
Para
Marques (1992, p. 15), “acima da questão da formação dos educadores coloca-se,
frequentemente, o problema dos métodos mais adequados ao ensino”, numa
concepção ritualística de método, cujo receituário exigiria apenas dóceis e
hábeis aplicadores em práticas predefinidas por outrem. Outro aspecto que não
pode deixar de ser comentado, é o fato de que a Prática de Ensino deve ser uma
experiência interessante e significativa na vida profissional dos alunos dos
cursos de Licenciatura. Mas, o que se vê é que tem sido cada vez maior a
presença de uma postura negativa em relação ao estágio escolar.
A
justificativa que é ouvida de grande parte desta clientela é que a escola
brasileira - especialmente a pública - possui tantos problemas que não é capaz
de proporcionar a vivência adequada que os licenciandos precisam em sua
formação. E que muitas vezes, estas atividades são substituídas, por muitas
instituições e professores formadores, por outros mecanismos como ciclo de
palestras, desenvolvimento de projetos e atividades de extensão.
Segundo
Bastos & Nardi (2008), os professores iniciantes podem sofrer um “duro
choque” já nas situações do estágio supervisionado de licenciatura, o que
contribui para que esse professor questione a validade dos conhecimentos
pedagógicos transmitidos pela universidade e se desinteresse pela carreira do
magistério. E é nesse sentido que pode ser facilmente diagnosticado aqui um dos
maiores, senão o maior, dos problemas dos cursos de formação de professores,
que é a falta de articulação entre as disciplinas e, principalmente entre o
conteúdo ensinado e a prática efetiva.
Tendo
em vista o que foi exposto até aqui, cabe agora uma reflexão acerca de algumas
questões que se colocam atualmente para os cursos de formação de professores,
em especial as Licenciaturas em Biologia para o ensino de Ciências. Para
Maldaner (2003), os professores dos institutos ou departamentos de Biologia ao
atribuírem às faculdades de educação a tarefa de formar professores estão
esquecendo ou ignorando que os conteúdos de química que serão ministrados pelos
futuros professores precisam ser pedagogicamente transformados.
Ainda
segundo Maldaner (2003), seria ignorar o que Philippe Perrenoud define como “a
essência do ensinar”. Existe uma tendência de que esses cursos, em seus currículos,
contemplem uma profunda reflexão do professor sobre a prática pedagógica. Pois
que haja então uma real compreensão do papel social da escola, e uma
identificação dos saberes presentes nas estratégias e táticas desenvolvidas no
cotidiano. Além, de uma maior identificação dos elementos referentes à
construção do currículo, à relação professor-aluno, às metodologias de ensino
e, às concepções de ensino-aprendizagem. É importante que haja, por parte dos
futuros professores, o domínio não só dos conteúdos como também das
competências pedagógicas necessárias para o trabalho educativo no mundo
contemporâneo.
Em
Galiazzi (2003, p.24) há um aspecto positivo a ressaltar nas Licenciaturas: “é a
importância das disciplinas integradoras”, e aqui, destaca-se a Prática de
Ensino e a Didática. É importante que o professor dessas disciplinas domine
tanto o conteúdo específico quanto o pedagógico, além de se dedicar à pesquisa
sobre ensino desses conteúdos. E essas disciplinas precisam permear o curso
desde seu início.
Não é
possível haver contentamento com a ideia de que as aprendizagens são muito
fortes e difíceis de serem transformadas. Se for pensado dessa forma, apesar de
toda a pesquisa educacional, haverá a obrigatoriedade de aceitar, em última
instância, que o professor tradicional, seja o melhor caminho a seguir e a
solução aos problemas das Licenciaturas, Galiazzi (2003).
Deve
ser observado que a relação teoria-prática deve ser garantida na matriz
curricular dos cursos de formação inicial de professores, em especial na
Prática de Ensino das áreas das Ciências (aqui a Licenciatura em Ciências
Biológicas). Sob este prisma, essa disciplina deve promover a articulação dos
saberes específicos com aqueles pedagógicos, procurando incorporar ao seu
programa as questões que se colocam hoje tanto no campo educacional como na
educação científica. Sem sombra de dúvidas, parece ser esse o único e possível
caminho para a compreensão, pelos futuros professores de ciências, do processo
educacional e da própria produção de conhecimento nas diferentes áreas como
práticas sociais.
Ao
analisar as Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores
disponibilizada pelo Ministério da Educação, são encontrados nos princípios
básicos, norteadores para o exercício profissional os seguintes aspectos:
·
A competência como concepção nuclear na
orientação do curso;
·
A coerência entre a formação oferecida e a
prática esperada do futuro professor;
·
A pesquisa, com foco no processo de ensino
e de aprendizagem.
Os
manuais didáticos têm procurado transmitir que, ensinar requer tanto dispor de
conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como compreender o processo de
construção do conhecimento. Sendo assim, como então será possível atender aos
aspectos listados acima durante a formação docente? Pimenta (2008, p. 48)
afirma que: “A instância mediadora entre teoria pedagógica e práxis educacional
repousa no educador (na sua ação), graças ao qual ela pode, enquanto ciência
tornar-se prática na pesquisa e no ensino”.
Para
tratar da formação profissional dos educadores, é encontrado
em Nóvoa (1995) a indicação de que a história da formação de professores tem
oscilado entre o modelo acadêmico com ênfase institucional e de conhecimentos
fundamentais e o modelo prático fundamentado na escola e nos métodos. O autor
propõe, como tentativa de superar os modelos anteriores, um modelo
profissional. O modelo apresentado por Nóvoa teria como elementos do currículo
três aspectos: o primeiro metodológico (ligado às técnicas), o segundo
disciplinar (ligado ao saber específico), e o terceiro científico (ligado à
ciência da educação).
Alguns
autores, como por exemplo, Delizoicov (2007) propõem outros elementos que devem
fazer parte da formação de professores na área além dos já citados. Por
exemplo, as contribuições da História e da Filosofia da Ciência. Com base nas
pesquisas desenvolvidas no Ensino de Ciências, Carvalho e Gil-Peres (1993),
propõem aspectos que deverão constituir os conhecimentos de um professor de
ciências. Os autores, fundamentados na ideia de aprendizagem como construções
de conhecimentos com as características de uma pesquisa científica e na
necessidade de transformar o pensamento espontâneo do professor indicam o que,
professores de ciências, deverão saber e saber fazer.
Além
de conhecer a matéria ensinada, é necessário conhecer e questionar o pensamento
docente espontâneo, adquirir conhecimentos teóricos sobre aprendizagem e
aprendizagem em ciências, desenvolver uma crítica fundamentada no ensino
habitual, saber preparar atividades, saber dirigir a atividade dos alunos,
saber avaliar e saber utilizar a pesquisa e a inovação. E aqui neste ponto
destaca-se a importância do conteúdo científico na formação de futuros
professores de Ciências (nos cursos de Ciências Biológicas) no que se refere à
disciplina de Química que tem sido colocada de lado em detrimento dos conteúdos
específicos da Biologia.
No
ano de 2001, no curso de Docência do Ensino Superior, na Universidade Federal
do Rio de Janeiro, (UFRJ), quando da apresentação de trabalho final foram
abordados, por esta autoria, alguns aspectos importantes acerca dos dilemas e a
qualidade da educação. Na condição de educador, algumas questões formam-se com
a observação e a experiência da prática diária. Prática que já se estende por
mais de trinta anos. O que levou ao desenvolvimento da pesquisa acerca do tema
citado. Tema que, está diretamente envolvido com a formação do educador no
Brasil. Na época, para chegar ao entendimento do tema apresentado, o título
escolhido referiu-se à qualidade da educação. E, no enredo escolhido,
“qualificar a educação, é fazer com que ela seja capaz de dar ao homem
cultura”, Costa (2001). Mas que cultura é essa?
Atualmente,
a palavra cultura é uma palavra “poluída” por ser uma palavra usada com
múltiplos significados. Em Nardi, Bastos e Diniz, (2004, p.58) é encontrada
uma referência de Vigotski (1991) que é muito providencial: “o homem se
constitui como tal a partir de suas interações sociais, transformando e sendo
transformado pelas relações que produz em uma determinada cultura”. O
conhecimento dá-se "pela vivência e pela cultura”, (Becker, 2008, p. 38).
Hoje,
para tudo, o que se nota é uma total falta de cultura. Não se pode confundir
cultura com talento ou com dotes naturais. Mesmo porque esses dotes naturais,
quando existem, precisam de cultura para que possam ser plenamente
desenvolvidos. Ainda neste contexto e retornando a Nóvoa (1995), para que o
professor de Ciências possa assumir sua condição de profissional da educação,
sua formação deve ser dada em pelo menos três dimensões culturais: a cultura
política, a cultura pedagógica e a cultura científica. Para tal, é de
fundamental importância, que esses profissionais conheçam o contexto
ocupacional, a natureza do papel da profissão e possuam, principalmente, a
competência profissional para ser professor.
A
educação é a conquista da liberdade e da plenitude, mas está sempre cheia de
entraves, está sempre sendo suprimida. É aprendendo que se faz cultura, é
aprendendo que as pessoas ganham cultura. Mas como transferir esta cultura através
da educação se há educadores, em sua maioria, totalmente despreparados? Para
Guarnieri (2000), o professor novato, ao se deparar com sua prática pode, a
qualquer momento, rejeitar ou até mesmo abandonar os conhecimentos pedagógicos
recebidos durante seu curso de formação, assumindo uma postura pragmática,
integrando-se à cultura da escola, tornando-se passivo e resistente às
mudanças. Nos caminhos desta abordagem não há a presunção de
esgotar o tema. Muito menos dar as respostas para tal questionamento. Mas,
serão apresentados os motivos julgados importantes na busca da resposta ao
dilema aqui levantado sobre a disciplina de Prática de Ensino e o ensino de
Ciências.
Pavão
e Freitas (2008) defendem a premissa de que a reflexão sobre as
necessidades, os problemas e dilemas que vivem a escola são os pontos de
partida para que sejam levantadas as prioridades na definição da função da
escola e do ensino de Ciências. Já para Galiazzi (2003), outro dilema a ser
superado pelos cursos de Licenciatura é feito de integração entre a
Licenciatura e a realidade escolar. Há pouca consonância entre quem forma o
futuro professor e os sistemas de ensino que o absorvem como profissional.
Segundo Lüdke (1994), os professores universitários, em sua grande maioria, não
têm conhecimento suficiente da realidade desses sistemas de ensino. Uma parcela
significativa dos professores formadores não tem nenhuma vivência desse sistema
de ensino como professores. E isso contribui para que haja um distanciamento
ainda maior dos estudantes dos cursos de licenciatura e a realidade escolar.
Na
linha dessa multiplicidade de linguagem, até a qualificação de
"intelectual" assume feições equívocas. Intelectuais, se intitulam
como artistas primitivos que, em sua grande maioria, nunca fizeram funcionar a
inteligência. Sem querer acusar nenhum dos segmentos pesquisados neste trabalho
(professores formadores e licenciandos), infelizmente através dos atuais
equívocos transmitidos na formação universitária é que se mergulha neste “mar
de incompetência” dos professores. E, desta forma, a culpa recai sobre quem
forma. E forma mal.
Outro
equívoco que obscurece a noção da cultura é o "saber especializado",
que cada vez mais é o proporcionado pelas universidades. Essa tendência do
ensino superior é irreversível. Cabe às universidades formar profissionais; e
profissionais cada vez mais especializados. Muito de muito pouco, isto é, de
incultos. Deve-se estar atento para o risco da "deformação
especialista". E foi com esta mentalidade que se pode afirmar e agora
reafirmar que é pela educação e aprendizado que o homem adquire cultura.
Os
futuros professores devem ser formados também de maneira a se apropriarem da
produção de conhecimentos, tanto do campo pedagógico, quanto daqueles
específicos, e das possíveis articulações entre eles, o que hoje na grande
maioria dos currículos pesquisados está comprometido. As diferentes disciplinas
que compõem a matriz curricular das Licenciaturas em Ciências devem garantir de
forma teórica e prática o acesso a esses conhecimentos, cada uma com sua
especificidade.
Em
síntese, no que diz respeito à Prática de Ensino, cabe ainda destacar que sua
especificidade se dá exatamente na convergência entre dois saberes: o saber
pedagógico e o saber científico. Nesta perspectiva, várias questões se colocam
hoje no campo da educação científica e na sua articulação com a educação mais
geral. Mas mesmo diante de tanta especificidade, cabe aos formadores a
responsabilidade de ensinar a ensinar.
Metodologia e Detalhes da
Execução
Certamente,
este trabalho não é pioneiro em projetos desta natureza. Mas a simples mudança
na forma de orientação aos futuros professores, durante a realização da
disciplina de Práticas de Ensino, trará aos licenciandos uma maior segurança
sobre o “como ensinar”. A título de exemplo, serão apresentadas algumas
abordagens sobre a Tabela Periódica, partindo dos estudos dos Elementos
Químicos, como orientar a sua pesquisa e o seu estudo, sejam em livros ou mesmo
na INTERNET. Serão apresentadas ainda opções de aulas práticas que possam
estimular os alunos e dar um andamento mais qualitativo às conclusões a serem
alcançadas pelos alunos.
Cabe
ao professor de Ciências a função de “balizador”, de fiscalizador do processo
de aprendizado, pesquisa e orientação. Mas como executar tal tarefa? Como o
professor em sua formação deve praticar essa metodologia? Como os formadores
devem abordar essa técnica durante as aulas de Práticas de Ensino? A sugestão é
a de que professores e pesquisadores façam um acompanhamento mais detalhado
dessa metodologia ainda quando da formação inicial dos licenciandos.
Dentre
os vários tópicos de Ciências que devem ser abordados no 9° ano de escolaridade
do ensino fundamental é a Tabela Periódica, talvez um dos assuntos mais
complicados a ser ensinado por professores recém formados. Para esse assunto é
importante que o professor insista na idéia de que a Tabela Periódica foi um
instrumento desenvolvido por cientistas para ser consultado e não decorado,
como muitos alunos pensam. Sendo assim não se deve, em hipótese alguma, pedir
aos alunos que memorizem a posição dos elementos. Deve-se, sim, explorar a que
tipo de conclusões tanto micro, como macroscópica, o aluno pode tirar ao
observar a posição dos elementos na organização de Mendeleev. Essa atitude deve
estimular o senso à pesquisa por parte dos alunos. Mas deve ser uma pesquisa
que possa ser realizada pelos alunos e que traga bons resultados.
O
professor, no exercício da sua profissão deve entender que é papel da escola e,
consequentemente do educador, criar situações para que o discente seja levado à
procura do conhecimento; para que tenha oportunidades para desenvolver suas
habilidades. Desta forma, entende-se que, para realizar os trabalhos escolares,
os alunos devem ser “balizados”, orientados a desenvolver as habilidades de
procurar a informação de forma correta. Devem ainda, selecionar os pontos mais
importantes das informações encontradas e comparar essas informações, julgando
as mais importantes para a sua pesquisa, tomar a decisão de escolher a que melhor
lhe convir e, finalmente emitir, se for o caso, uma crítica a respeito do que
foi encontrado na pesquisa escolar. Quando algum ou alguns desses pontos não
são observados pelos professores, os alunos deixam, por conseguinte de realizar
uma pesquisa adequada e passam a fazer apenas “cópias de trabalhos”, o que é
chamado de plágio ou utilização indevida de material que não é de sua autoria.
Uma prática que talvez seja muito característica da cultura pós-livro (Silva,
2008).
Sugere-se
que trabalhos desta natureza devam ser realizados em três etapas: aplicação dos
conteúdos de química em sala de aula – aqui, no caso escolhemos como assunto:
os Elementos Químicos e a Tabela Periódica; realização de aulas práticas
(quando possível) e utilização orientada de material informativo da INTERNET
previamente escolhido.
Para
a aplicação dessa metodologia sugerem-se pelo menos três aulas. Na primeira
aula, devem ser apresentadas as demonstrações práticas em laboratório
pertinentes ao assunto abordado. Na segunda aula, a parte teórica deve ser
aplicada em sala com a apresentação do conteúdo previsto para a disciplina.
Neste caso trabalhando o conteúdo sobre “Elementos Químicos”. Com a elaboração
dos planos de aula, deve ser feito um roteiro do conteúdo e os recursos que serão
utilizados durante as aulas. Em uma terceira aula, no laboratório de
informática, devem ser apresentados e discutidos os conceitos de pesquisa, os
vários tipos de fontes disponíveis na INTERNET para que os alunos se
familiarizem com as matérias disponíveis e reconheçam as diferentes formas de
apresentação.
Para
a realização do trabalho de pesquisa escolar, os alunos devem ser orientados a
acessar publicações, como por exemplo, da “Química Nova na Escola” via INTERNET
através do laboratório de informática da escola ou de suas casas à procura de
informações sobre os elementos químicos estudados durante as aulas práticas
e/ou teóricas. Essa revista eletrônica apresenta em cada publicação a história
dos elementos químicos, bem como suas características e aplicações.
Sempre
que possível, as aulas práticas de química devem ser alternadas com exposições
orais de forma que se possa explicar o que está acontecendo no momento da
realização daquele procedimento. As práticas podem ser realizadas em
laboratório ou na própria sala de aula. Quando possível, uma prática que deve
ser demonstrada, e que aqui tomamos como exemplo, é o ensaio-de-chama (é uma técnica analítica
simples para identificar elementos químicos presentes numa amostra - análise
elementar por via seca que utiliza a espectroscopia). As
características espectrais (cores) de alguns elementos químicos presentes em
algumas substâncias contribuem para que os alunos assimilem os conceitos
abordados. É um efeito visual muito bonito e que prende a atenção dos alunos. A
prática do ensaio de chama pode ser realizada com o auxílio de uma lamparina a
base de querosene ou álcool. Uma alça metálica pode ser usada para levar até a
chama alguns cristais das substâncias que contenham algum elemento químico que
emita colorações diferenciadas.
Após
este primeiro contato com alguns dos elementos químicos, sugere-se que sejam
explorados os símbolos dos elementos, a organização dos elementos químicos, a
tabela periódica e a classificação desses elementos. Com essas abordagens, os
licenciandos devem ter em mente que os objetivos a serem alcançados pelos seus
futuros alunos serão:
·
Reconhecer e saber utilizar os símbolos da
tabela periódica;
·
Compreender os enunciados de questões que
envolvam símbolos químicos;
·
Compreender e reconhecer a importância da
utilização de fórmulas, símbolos e representações químicas;
·
Observar o mundo ao seu redor e
identificar a presença da Química em diferentes situações;
·
Entender o significado dos símbolos
químicos.
Sabe-se
que o ato de classificar sempre foi e continua sendo uma preocupação muito
grande por parte da Ciência, pois as classificações têm como finalidade
fundamental, organizar os assuntos, facilitando o estudo. De modo geral, à
medida que os conhecimentos vão sendo ampliados, as classificações vão sendo
alteradas, de maneira que acompanhem essa evolução, que é constante. Sendo
assim, toda e qualquer classificação tem uma história, que vai desde as
primeiras tentativas de organização até as diversas situações do momento. E não
poderia ser diferente com a classificação utilizada para os elementos químicos
e a tabela periódica.
Os
alunos dos cursos de licenciatura devem ser preparados para também explorar as
fases históricas pelas quais passaram o desenvolvimento da Ciência. Aqui, no
caso, a história dos elementos químicos e a história da tabela periódica.
Livros como, por exemplo: O Sonho de Mendeleev de Paul Strathern e O Tio
Tungstênio de Oliver Sacks devem ser lidos ainda no início da licenciatura.
Atualmente,
os elementos químicos são classificados em três grupos (metais, não metais e
gases nobres) e organizados segundo uma tabela, que se baseia na primeira
tabela proposta em 1869 por Mendeleev. O aluno do curso de licenciatura deve
ainda saber que, a rigor, devemos falar em quatro grupos, pois o hidrogênio
deve ser tratado à parte, devido às suas propriedades peculiares.
Um
assunto que deve ser bem explorado no tema dos elementos químicos e da tabela
periódica versa sobre os minérios. Deve-se iniciar com o conceito de minério. E
o mais restrito de todos e certamente o mais antigo é o que consta no
Dicionário de Química publicado por Carraro (1967, p. 262): “Minério é todo
mineral ou associação de minerais que serve como matéria-prima em um processo
industrial, quase sempre metalúrgico, do qual se pode extrair um ou mais
metais”. Entretanto, nos dias atuais, não é dessa forma que se pensa, pela
razão de que muitos minérios não são representados por um mineral, mas por uma
rocha que é um agregado de minerais.
Para
o desenvolvimento das aulas teóricas sobre a Tabela Periódica sugere-se um
trabalho dividido em duas etapas:
I) Aplicação
dos conteúdos em sala de aula, com uma Tabela Periódica afixada na parede ou no
quadro e um exemplar da tabela para todos os alunos e a aplicação de uma lista
de exercícios (dez questões, cinco objetivas e cinco discursivas);
II) No
Laboratório de Informática da escola ou de suas casas deverá ser feita a
consulta a uma Tabela Periódica “on line”, e respondida uma nova série de
exercícios. Sugere-se novamente que sejam sempre cinco questões discursivas e
cinco questões objetivas.
Observe-se
que devem ser analisadas várias páginas disponíveis para a pesquisa sobre
elementos químicos. O sítio escolhido para ser citado neste projeto foi a
“Revista Química Nova na Escola” através do endereço http://qnesc.sbq.org.br/, mas existem
outros sítios com a mesma qualidade e confiabilidade das informações disponibilizadas.
Nas
aulas expositivas e de pesquisa, sugere-se ainda que deva ser tentado o
trabalho de interdisciplinaridade com a ajuda de professores de português e
redação, para que os alunos recebam, por exemplo, a orientação sobre as etapas
de um trabalho escolar (introdução, desenvolvimento, conclusão, anexos,
referências bibliográficas, etc.).
A
intenção é fazer com que os futuros professores sejam conscientizados que a
estimulação à pesquisa escolar, antes da aplicação dos conteúdos estipulados
para a série, é de fundamental importância. Para tanto, é necessário que o
professor, no exercício da sua profissão, considere à priori os seguintes
aspectos:
a) Discutir
com os alunos o conceito de pesquisa;
b) Apresentar
exemplos de fontes seguras de pesquisa na INTERNET;
c) Mostrar
as etapas necessárias para a elaboração de um bom trabalho de pesquisa;
d) Dar
a oportunidade para a realização de trabalhos de pesquisa escolar sobre alguns
assuntos relativos à disciplina;
e) Orientar
o acesso às informações contidas nas fontes de pesquisa;
f) Levar
o aluno a fazer uso adequado e responsável das informações existentes na
INTERNET;
h) Informar
sobre a questão do direito autoral (citação e referência bibliográfica);
i) Conscientizar
o aluno sobre a importância da leitura para a elaboração do trabalho de
pesquisa;
g) Colaborar
para a uniformização e a padronização da apresentação dos trabalhos escolares
também em outras disciplinas.
Conclusão
Deve
ser entendido pelos formadores e pelos licenciandos que a divulgação científica
é fundamental para a popularização da ciência, pois o ambiente científico é
muito carente em oportunidades e, mais importante, nossa educação escolar
básica sofre com a escassez de recursos humanos, meios e infra-estrutura para
divulgação do conhecimento científico. E aqui se acrescente que, é preciso que
a ciência e a tecnologia sejam de domínio público, tendo-se obviamente, a
necessidade de divulgá-las.
Com
este enfoque é de fundamental importância que os futuros professores tenham a
orientação inicial adequada sobre as novas tecnologias que podem ser aplicadas
às aulas de ciências. Sugere-se ainda a participação efetiva dos novos
professores em projetos de Feiras de Ciências e de Mostras Culturais
Pedagógicas, que além da divulgação científica, abrange as áreas de Arte,
Cultura e Ciências, nas suas mais variadas formas de expressão e modalidades.
Ela favorece a troca de experiências entre alunos, professores e demais
participantes, promove o desenvolvimento da criatividade e da capacidade
inventiva e investigativa nos alunos, além de provocar o diálogo entre as
representações discentes e docentes.
Não
se pode esquecer que a escola é um local de produção de conhecimento e é
necessário estarmos atentos para esta necessidade humana fundamental – o diálogo.
E como citado em Pavão e Freitas (2008, p. 195), que seja um diálogo o mais
amplo possível.
Finalmente,
espera-se que este projeto possa contribuir para a melhoria do nível dos
trabalhos de pesquisa realizados pelos alunos e ainda com a melhoria da qualidade
das aulas que serão ministradas pelos futuros professores, os licenciandos de
hoje.
Referências
ALMEIDA,
R. A. Para além da redundância? Robert Merton e a “nova” sociologia da ciência.
In: VII ESOCITE – Jornadas
Latino-Americanas de Estudos Sociais das Ciências e das Tecnologias, Rio de
Janeiro: UFRJ, 2008.
ASTOLFI, J. P., DELEVAY, M. A Didática das
Ciências. 12. ed. São Paulo: Papirus, 2008.
BACHELARD, G. Epistemologia, trechos escolhidos.
de Dominique Lecourt. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1983.
_____________ A Formação do Espírito Científico.
1. ed. Trad. Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996.
BAGNO,
M. Pesquisa na escola: o que é, como se
faz. São Paulo: Loyola, 1998.
BASTOS,
F. História da Ciência e Pesquisa em
Ensino de Ciências: breves considerações. Construtivismo e Ensino de Ciências.
In: NARDI, R. (Org.) Questões Atuais no
Ensino de Ciências. São Paulo: Escrituras, 1998.
BASTOS, F.; NARDI, R. (Orgs.). Formação de
Professores e Práticas Pedagógicas no Ensino de Ciências: Contribuições da
Pesquisa na Área. São Paulo: Escrituras, 2008.
BECKER,
F. A Epistemologia do Professor: o
cotidiano da escola. Petrópolis:
Vozes, 2008.
BRZEZINSKI,
I. Embates na definição das políticas de formação de professores para a atuação
multidisciplinar nos anos iniciais do Ensino Fundamental: respeito à cidadania
ou disputa pelo poder? Revista Educação
e Sociedade, São Paulo, ano XX, nº 68, dez. 1999.
CARVALHO, A. M. P. GIL-PÉREZ, D. Formação de
Professores de Ciências. São Paulo: Cortez, 1993.
COSTA, N. L. A Formação do Educador no Brasil.
Qualificar a Educação – é fazê-la capaz de dar ao homem cultura. Trabalho
de conclusão de curso (especialização). Universidade Federal do Estado do Rio
de Janeiro, Rio de Janeiro, 2001.
CRESWELL,
J. W. Projeto de Pesquisa: métodos
qualitativo, quantitativo e misto / Jonh W. Creswell; trad. Luciana de
Oliveira da Rocha. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.
DANIEL, L. S.; NASCIMENTO, C. D. Instituto de
Educação de Florianópolis e os intelectuais catarinenses na década de 40. In:
DAROS, Maria das Dores; SCHEIBE, Leda (Orgs.). Formação de professores em
Santa Catarina. Florianópolis: NUP/CED, 2002.
DELIZOICOV, D. ; ANGOTTI, J. A. Metodologia do
Ensino de Ciências. São Paulo: Cortez, 1990.
DELIZOICOV, D. ; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO M. M. Ensino de Ciências:
fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2007.
DEMO, P. Pesquisa: princípio científico e
educativo. São Paulo: Cortez, 1997.
GALIAZZI, M. C. Educar Pela Pesquisa: ambiente de
formação de professores de ciências. Ijuí: Unijuí, 2003.
GATTI, B. Formação de professores e carreira:
problemas e movimentos de formação. Campinas: Autores Associados, 2000.
GIL, A. C. Metodologia do Ensino Superior. 4.
ed. São Paulo: Atlas, 2005.
GUARNIERI, M. R. (Org.) Aprendendo a Ensinar: o
caminho nada suave da docência. Campinas: Autores Associados, 2000.
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de
metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2009.
LISITA, V. M. S. S. (org.). Formação de
professores: políticas, concepções e perspectivas. Goiânia: Editora
Alternativa, 2001.
LÜDKE, M. Avaliação Institucional: Formação de
Docentes para o Ensino Fundamental e Médio (as licenciaturas). In: Série:
Cadernos CRUB, V. 1, n. 4, Brasília: 1994.
MALDANER, O. A. A Formação Inicial e Continuada
de Professores de Química. Ijuí, Unijuí, 2003.
MARQUES, M. O. A Formação do Profissional da
Educação. Ijuí: Unijuí, 1992.
MARTINS, P. L. O. Didática Teórica / Didática
Prática. São Paulo: Loyola, 1989.
MORTIMER,
E. F. Construtivismo, Mudança Conceitual
e Ensino de Ciências: para onde vamos? São Paulo: FEUSP, 1995.
NAGLE,
J. As unidades universitárias e suas licenciaturas: educadores x pesquisadores.
In: CATANI, D. B. et al. (Orgs). Universidade,
escola e formação de professores. São Paulo: Brasiliense, 1986.
NARDI, R.; BASTOS, F. DINIZ, R. E. S. (Orgs.). Pesquisa
em Ensino de Ciências: contribuições para a formação de professores. São
Paulo: Escrituras, 2004.
NÓVOA, A. Os professores: um objeto da investigação
educacional. In. Vidas de professores. 2. ed. Porto: Porto, 1995.
PAVÃO, A. C.; FREITAS, D. (Orgs). Quanta Ciência
há no Ensino de Ciências. São Carlos: EdUFSCar, 2008.
PEREIRA, J. E. D. A formação de professores nas
licenciaturas: velhos problemas, novas questões. In: IX Encontro Nacional
de Didática e Prática de Ensino. Anais. v.1, n.2. Águas de Lindóia: 1998. p.
341-357.
_______________
As licenciaturas e as novas políticas educacionais para a formação docente. Revista Educação e Sociedade. São
Paulo: ano XX. n° 68, dez. 1999, p.109-125.
PIMENTA,
S. G. (Org.). Didática e Formação de
Professores: percursos e perspectivas no Brasil e em Portugal. São Paulo:
Cortez, 2008.
POZO,
J. I. A aprendizagem e o ensino de
ciências: do conhecimento cotidiano ao conhecimento científico. Porto
Alegre: Artmed, 2009.
SACKS, O. W. Tio Tungstênio: Memórias de uma
infância química. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.
SANTOS
FILHO, J. C. Pesquisa Educacional:
quantidade-qualidade. São Paulo: Cortez, 2000.
SCHÖN,
D. Formar professores como profissionais reflexivos. In: NÓVOA, Antônio. Os professores e sua formação. Lisboa:
Dom Quixote, 1992.
SCHEIBE, L. A formação pedagógica do professor
licenciado – Contexto Histórico.. Florianópolis: Perspectiva/CED, 1983, p.
31 - 45.
SILVA,
E. T. Magistério e Mediocridade. São
Paulo: Cortez, 1999.
SILVA,
O. S. F. Entre o plágio e a autoria: qual o papel da universidade? Revista Brasileira de Educação. São
Paulo v.13 n° 38 maio/agosto, 2008
STRATHERNS, P. O sonho de Mendeleev: a verdadeira
história da química. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.
TEIXEIRA, P. M. M.; RAZERA, J. C. C. Ensino de
Ciências: Pesquisa e pontos em discussão, São Paulo: Komedi, 2009.
TOMITA, N. Y. De História Natural a Ciências Biológicas, São Paulo: Ciência e
Cultura, 1990.
VIGOTSKI, L. S. A Formação Social da Mente.
Trad. José Cipolla Neto, Luis S. M. Barreto, Solange C. Afeche, 4. ed., São
Paulo: Martins Fontes, 1991.
ZANON, L. B. Fundamentos e Propostas de Ensino de
Química para a Educação Básica no Brasil, Ijuí: Unijuí, 2007.
ZABALA, A. A Prática Educativa: Como Ensinar.
Porto Alegre, Artmed, 1998.
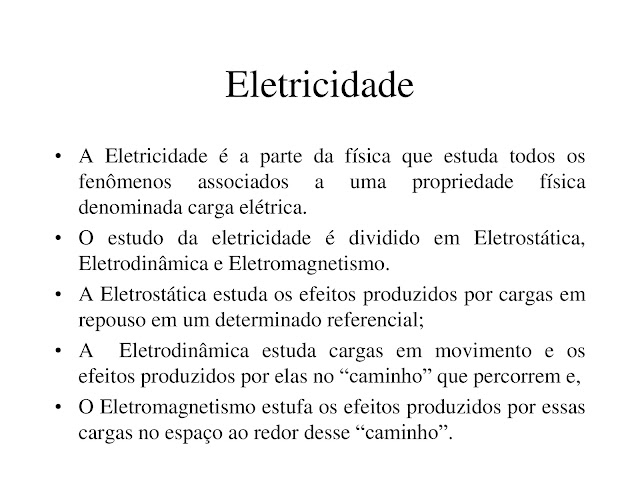


Comentários
Postar um comentário